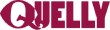Sobre o crítico

Bruno Carmelo é o criador do site Meio Amargo, crítico de cinema, membro da ABRACINE, além de mestre em teoria de cinema pela Universidade de Sorbonne Nouvelle, em Paris, com passagem por veículos como AdoroCinema, Papo de Cinema e Le Monde Diplomatique Brasil e professor de cursos sobre o audiovisual.
O queer de ontem e de hoje: A Rainha Diaba
“Era uma vez um viado!”. A frase entoada com desdém por Catitu (Nelson Xavier) decreta o fim da Rainha Diaba (Milton Gonçalves), líder das bocas de fumo na periferia carioca. Nesta altura da trama, a (anti-)heroína tem seu domínio questionado, e vê os comparsas trocarem de time. No entanto, a fala do principal opositor parece iniciar uma fábula, apresentando a personagem ao público. Trata-se de uma evocação simultânea de fim e de começo, propícia à abertura da Quelly – Mostra Internacional de Cinema de Gênero e Sexualidade, em sua sexta edição.
É sintomático que o evento maranhense, composto sobretudo por curtas-metragens finalizados após 2020, se inicie com um longa-metragem de 1974. Trata-se de um retorno às raízes, como se os curadores George Pedrosa e Daniel Nolasco insistissem que as obras posteriores fossem analisadas a partir uma perspectiva histórica. Os experimentos de Renata Carvalho, Breno Baptista, Laure Giappiconi e Theo Montoya, entre outros cineastas cujos filmes integram a seleção, não surgiram de lugar nenhum: houve pioneiros para abrir estas portas.
Além disso, a cópia exibida no Teatro da Cidade de São Luiz, antigo Cine Roxy, costura por si própria os laços entre presente e passado. A versão digitalizada e recuperada, a partir de um material original excepcionalmente bem preservado, oferece um deleite de cores e sons. Desde sua exibição no Festival de Berlim, onde venceu um prêmio de preservação, A Rainha Diaba tem sido redescoberta pelas gerações contemporâneas, levando o cineasta Antônio Carlos da Fontoura a mencioná-la como “meu mais novo filme de 50 anos atrás”, em evento na Cinemateca Brasileira.
A Mostra Quelly, que revestiu o cinema são-luisense das cores rosa e lilás, acolheu o universo multicolorido do clássico. A narrativa se inicia com letreiros feitos a mão, sobre cartolina, na qual foram colados glitter e fotos, de maneira artesanal. Para cada cartela, uma cor diferente. A imagem inicial acompanha uma personagem adentrando o prostíbulo onde se situa parte considerável da ação. O local possui quadros de textura carregada, fotos, cortinas compostas por tiras verdes, amarelas, vermelhas.
O quartinho da Rainha Diaba possui paredes verdes, janelas rosas, cadeiras amarelas, objetos vermelhos. No pensionato onde vive Isa (Odete Lara), as paredes são cor-de-rosa, com janelas amarelas, vermelhas e azuis. Nota-se o luxo kitsch e decadente nas roupas exageradas, evocando um conforto sonhado (ou a memória do conforto perdido) que serve a contextualizar a marginalidade por vias sociais e econômicas.
Através dos objetos, cenários e roupas, compreende-se quem são estes personagens que sonham alto a partir de realidades desfavoráveis. A própria Rainha, vejam só, ganha dinheiro e sustenta um império a partir de um quartinho modesto. Evoca-se com insistência um enriquecimento distante, utópico. As classes altas, os políticos, os grandes empresários estão devidamente apartados deste universo de sonhos, onde se parece viver uma ficcionalização de si próprio. Por isso, os casacos, a maquiagem pesada e os vestidos brilhosos correspondem a uma autoprojeção eufórica e melancólica (pois nunca concretizada).
É improvável que o cineasta tivesse a consciência de realizar, na época, um “filme queer”, porém esta seria a beleza dos estudos culturais e de gênero, aplicados ao cinema: a possibilidade de reavaliar obras a partir do olhar de uma geração distinta. O cinema queer estuda desde os primeiros anos da história do cinema, quando personagens masculinos efeminados e solteiros permitiam imaginar uma homossexualidade enrustida, ou a figura de mulheres que recusavam pretendentes masculinos (enquanto olhavam com carinho para as “amigas”) indicavam o lesbianismo latente.
Que A Rainha Diaba tenha se considerado queer ou não, em sua época, seria irrelevante nos nossos dias – afinal, a maioria das terminologias são atribuídas por terceiros, ao invés dos participantes do suposto movimento. As noções de Cinema Novo, Nouvelle Vague e afins foram atribuídas por críticos e intelectuais. A percepção socio-histórica provém de fora, a partir do distanciamento. Importa, de fato, a capacidade de reler a ascensão e queda da líder das bocas de fumo da década de 1970 por sua transgressão estética e de discurso.
A Rainha Diaba foi destronada por cobiça, mas também por homofobia. O principal opositor à protagonista representa, igualmente, o homem com maior aversão a gays. “É uma folga uma boneca daquela ser o manda-chuva. Como pode malandro bom trabalhar para aquela bicha?”, dispara Catitu. A primeira cena de Diaba a mostra deitada na cama, com um homem pedindo para cortar suas unhas do pé, enquanto um grupo de capangas aguarda dentro do quarto pela conclusão do ato. Este é o pequeno poder da figura ambiciosa.
Antes mesmo de descobrirmos o rosto da Diaba, vemos o quarto, suas pernas, o homem ao lado, e uma navalha na mão. Fontoura constrói a personagem a partir do imaginário de terceiros. Presente em menos da metade das cenas, ela constitui o tema principal das conversas dos demais. Os outros bandidos conspiram para atacá-la, sugerem agradá-la, discutem sua vida amorosa. O roteiro se inicia com a frase “Saiam todas daqui. As visitas da Diaba estão chegando”, quando Madame Violeta (Iara Côrtes) evacua seu estabelecimento. Diaba surge diante dos nossos olhos enquanto lenda, nunca desconstruída pela narrativa.
Milton Gonçalves reforça este imaginário quase delirante através de uma composição excepcional, repleta de variações. Fala grosso quando deseja intimidar, antes de apresentar um palavreado doce, exageradamente terno, na hora de solicitar favores. Sorri com a mesma frequência que corta rostos alheios com uma navalha. Percebendo o fim iminente de seu reinado, convoca amigas para uma festa de fachada, onde se utiliza de uma retórica passivo-agressivas para formar um novo exército disposto a apoiá-la. A guerra ocorre nos bastidores.
No Teatro da Cidade de São Luiz, os espectadores, em sua maioria jovens e LGBTQIA+, assistiam à imagem de um bar composto exclusivamente por figuras queer, em sua maioria, efeminadas e marginais. Os espectadores gays, lésbicas, bissexuais, travestis e não-binários presenciavam uma caracterização alegórica de si próprios, oriunda de cinquenta anos atrás. A disposição em colocar um público subrepresentado nas artes para observar a si mesmo, para se identificar, rir junto e temer junto dos personagens fictícios, constitui um valor fundamental do filme e da Mostra Quelly.
O evento maranhense traz ao palco de um grande cinema tradicional os curadores gays e figuras não-binárias, discutindo cinema profundamente marginal e fora do circuito. George Pedrosa relembrou aos presentes que ali costumava existir um cinema de pegação, de encontro entre gays. Agora a juventude queer volta a ocupar esta sala escura, o saguão, as ruas em frente, portando as roupas que lhe convêm, dominando o discurso, controlando a cena.
Trata-se de filmes LGBTQIA+ para pessoas LGBTQIA+ – e para todos aqueles que, não pertencendo aos grupos citados pela sigla, estejam abertos ao contato com a diferença. De qualquer maneira, este não seria um cinema feito sobre gays, para educar espectadores heterossexuais a respeito da tolerância, como se presencia com frequência no cinema mainstream. Tchau, O Segredo de Brokeback Mountain. Adeus, Filadélfia. Neste momento, gays, lésbicas, travestis falam deles, delas e delus, para eles, elas e elus.
Em paralelo, convém mencionar que o evento foi possibilitado por vias institucionais, com apoio do Governo do Estado do Maranhão – Secretaria de Estado da Cultura. A oficialização de um evento dedicado a estas pessoas e estes filmes, num cinema de relevância municipal, com direito a câmeras de televisão e repórteres presentes, oficializa a conquista de um espaço social efetuada mediante muito esforço e organização. As rainhas diabas saem do quartinho dos fundos para ocuparem o palco principal.
Fluidité
O corpo sonhado
Neste filme francês, a materialização da libido se encontra especialmente fora de quadro. A protagonista e narradora confessa seus desejos ao espectador: “Nos meus sonhos, eu fodo com garotas”. Ela descreve o ato sexual, com seu pênis “duro e macio”. O curta-metragem dirigido por Laure Giappiconi, Elisa Monteil e La Fille Renne pode ser descrito como uma representação metafórica da masturbação.
Em contrapartida, pedem as regras pulsionais que a origem e a manifestação do erotismo carreguem uma parcela de mistério, oculta à compreensão do próprio indivíduo. Nunca sabemos ao certo por que desejamos quem desejamos, de uma forma específica. Por que alguns corpos e situações nos excitam mais do que outros? Por que às vezes gozamos com algo que nos provocaria repulsa ou indiferença fora dos devaneios?
Esta parcela de incompreensão de si reside no hors champs, o espaço fora da imagem. Fluidité trabalha com uma janela (o formato da tela) bastante retangular e estreito, deixando duas grandes faixas pretas acima e baixo da imagem. O espaço da não-imagem (embora a escuridão também constitua, por definição, uma imagem) é explorado de maneira criativa pelas autoras.
O enquadramento corta o rosto enquanto o corpo feminino treme de prazer, ou então oculta a masturbação enquanto revela a expressão no rosto da atriz. Nunca enxergaremos o quadro completo, pois o filme reserva uma lacuna para a projeção e imaginação do público. Somos levados a pressupor o que estaria acontecendo na parte que falta da imagem: como estariam os dedos penetrando o sexo? Deste modo, cada pessoa pode atribuir à faixa preta o seu próprio imaginário de prazer. As cineastas compreendem que nossa mente é capaz de criar sensações mais potentes do que qualquer realização audiovisual o faria.
Fluidité se desenvolve em preto e branco. A montagem fragmenta, repete e dispersa a captação original, incorporando em seguida um sem-número de ruídos: granulação forte, efeito glitch, sujeiras aludindo à película antiga e desgastada. A representação do desejo tampouco se faz clara e acessível – ela se encontra abaixo de filtros e camadas que transformam o corpo das duas atrizes numa espécie de devaneio.
Ao ocultar suas identidades (não existe um único close-up no curta-metragem), a trinca de diretoras recorre a corpos universais, de identidade ou personalidade múltipla. Esta não seria a história da paixão específica entre duas pessoas, e sim uma alusão a qualquer forma de amor romântico. Por isso, cruzam-se corpos com seios e sem seios, dotados de pênis ou próteses. Quem está sentado sobre quem? Quem penetra quem? Pouco importa.
Em consequência, procura-se uma universalidade do prazer, que transcende noções particulares de gênero e identidade. Uma imagem capaz de superar rótulos ou convenções. Neste sentido, o preto e branco e as “sujeiras” da direção de fotografia contribuem a apagar traços distintivos. Trata-se de duas pessoas que compartilham um instante juntas, gozam juntas. E pronto. O cinema queer pode afirmar com orgulho as subjetividades específicas e marginais, mas também pode defender a compreensão do enlace entre duas pessoas quaisquer, para além do segmento sociopolítico ao qual pertençam.
Por fim, existe um papel fundamental de se assistir à masturbação e ao sexo na tela do cinema. Os pênis são projetados em grandes proporções, os sons de gemidos reverberam pela sala escura. O ato considerado íntimo, tolerado contanto que “entre quatro paredes”, deixa a esfera do tabu e da proibição para chegar ao espectador durante um evento público. Ora, quando se trata de adultos com consentimento (o que vale tanto para as atrizes quanto para os espectadores), qual o problema em discutir o sexo, em revelar corpos? Todos possuímos desejos e fantasias, não? Todos temos corpos, todos fazemos sexo. Por que estes temas deveriam permanecer no domínio do segredo e da vergonha?
Um dos principais receios das alas conservadoras da sociedade reside na capacidade do cinema em ampliar temas e discussões, tanto de maneira literal, pelas proporções da imagem e pela potência do som, quanto pela experiência coletiva própria a esta forma de arte. Sim, durante alguns minutos, os espectadores (todos adultos) da Mostra Quelly, assistiram, coletivamente, às imagens de masturbação e de pênis eretos. Estava claro que, inserido no domínio da arte e da performance, o filme não visava o estímulo pornográfico. O discurso foi compreendido com muita tranquilidade por todos. É benéfico, e raro, poder jogar luz sobre uma parcela tão natural do indivíduo quanto a sua sexualidade.
Godasses, Parte III: Jamal Phoenix
Pornô é coisa séria
Jamal Phoenix observa diretamente a câmera. Mais do que observar, ele a confronta, encara. Fala com orgulho, numa voz firme e sem hesitações, a respeito de sua profissão, seu corpo, seus prazeres. O protagonista, um homem trans que trabalha na indústria pornográfica, interpreta a oportunidade de se revelar à imagem não-pornográfica enquanto maneira de fazer justiça, retirando dúvidas e mal-entendidos.
O diretor Emre Busse demonstra igual seriedade no que diz respeito às ambições do documentário. Pela rigidez do dispositivo (a entrevista concedida em estúdio, sob fundo de quadros de anjos), sugere que o sexo, o corpo trans e a pornografia devem ser encarados como objetos de pesquisa e estudo. Retiremos a “vocação masturbatória” do centro da discussão por um momento, por favor. Pensemos no corpo enquanto máquina, performance, desempenho.
O ator revela as características que fariam de sua bunda uma ferramenta impecável para o sexo anal. Discute a curvatura perfeita da parte inferior da lombar, para garantir uma penetração adequada. “O tema bunda é controverso em si mesmo”, sugere. Compara suas “duas bocetas”, a “da frente e a de trás”. Lista as características de um passivo ideal. Afirma que os comentários depreciativos a respeito do seu trabalho constituem mera inveja por parte de pessoas com corpos menos avantajados.
Entre fragmentos de fala, o cineasta revela o artista sentando numa prótese de pênis. Os planos se tornam cada vez mais fechados, graças à montagem, que visa revelar em detalhes o ânus e garantir o realismo do dispositivo. “Nada disso é simulado”, sugerem as cenas. “Isso está realmente acontecendo”. Existe uma vontade de soar verdadeiro, de aproximar a câmera como se ela mesma fosse penetrar o ator principal. Estamos em pleno domínio (consciente ou não) do fetichismo do corpo e da genitalidade.
As falas de Jamal possuem força e clareza. Há valor notável em permitir ao jovem controlar o discurso por seu ponto de vista e seu corpo. No entanto, a tendência a espetacularizar o encontro pode despertar ressalvas. Busse oferece planos de detalhe na cicatriz no peito, decorrente da retirada dos seios. Despe o personagem aos poucos, ao longo das entrevistas. Assim, ostenta evidente vontade de chocar, de provocar o espectador acerca de seus preconceitos relacionados ao sexo.
O diretor imaginaria a projeção do curta-metragem num festival generalista, a uma plateia conservadora? Dentro do Teatro da Cidade de São Luís, os espectadores assistiam sem grandes surpresas à imagem da penetração anal – que, retirada do contexto artístico, não seria muito diferente de tantas outras que se multiplicam pela Internet. Esta foi apenas a parte III de uma trilogia mais ampla. Quem sabe a exibição da trinca de curtas-metragens pudesse atribuir um significado mais profundo à abordagem artística?
De qualquer modo, Godasses: Parte III – Jamal Phoenix interessa mais enquanto protagonismo do corpo negro, trans e profissional do sexo do que pela vontade explícita de perturbar sensibilidades. Nem mesmo a relação com os quadros clássicos ao fundo, algo que renderia reflexões frutíferas, se aprofunda no projeto. Resta a voz impassível de um homem potente, personagem assumido enquanto tal, enaltecendo-se num gesto válido de autoafirmação. É compreensível, para além do exercício de vaidades, que diretor e personagem se coloquem neste pedestal.
Quinze Primaveras
A travesti e as princesas
O projeto deste filme nasce de uma relação de amor e ódio com as convenções heteronormativas, representadas por um ritual muito específico: as festas de quinze anos. Neste momento, meninas são vestidas como princesas e apresentadas pelos pais à sociedade. Estão prontas para ser cobiçadas pelos homens, enxergadas como futuras esposas e mães de seus filhos. O patriarca declara aos homens que esta jovem mulher pode passar às mãos de outra tutela masculina.
Há um caráter evidentemente agressivo e machista nestes códigos. Entretanto, o curta-metragem reconhece a simbologia doce na qual foi revestido para adquirir uma aparência de presente às mulheres. Ora, trata-se de um dia concebido apenas para ela, para reconhecer seu amadurecimento, sua autonomia. A oportunidade de ser presenteada e elogiada por todos. As cerimônias de debutantes carregam a aparência de esmero e proteção destinada às parceiras nas sociedades heteronormativas: a prisão dourada enquanto forma de afeto.
Por isso, te decoro, te visto, te mimo, para que seja sempre minha. Te dou proteção em troca de uma pequena redução na sua liberdade (“Mulher minha não sai sozinha”, “Mulher minha não se veste assim”, “Mulher minha…”). É preciso que ela pertença a alguém, nunca a si mesma. Aos olhos da protagonista Ravena (Layla Sah), estes eventos soam deliciosos. “Eu coleciono sonhos, romantismo”, ela explica, antes de explicar sua fascinação por vídeos de debutantes.
Para a protagonista, uma mulher travesti, a idealização da feminilidade e da aceitação familiar, ainda de maneira controladora, se justifica. Afinal, foi rejeitada pelos parentes, e negada em sua afirmação da feminilidade. Teve sua juventude feminina recusada, impossibilitada. Hoje, adulta, imagina a adolescência que nunca teve, e se concretiza nas gravações de terceiros. Algumas mulheres adultas guardam bonecas, dentes de leite, roupinhas de quando eram crianças. Ravena guarda os sonhos… dos outros.
Quinze Primaveras parte de um encontro curioso entre a construção fictícia e a aparência do documentário. Por um lado, dispõe sua protagonista numa cadeira, conversando diretamente com a câmera, tal qual os documentários tradicionais. Ela se encontra diante de um fundo preto infinito, e demonstra curiosidade pela presença da câmera em filmá-la. Em outras palavras, esta personagem fictícia, interpretada por uma atriz talentosa, atua no papel de uma mulher espontânea. A ficção busca se passar por um documentário.
Haveria formas mais transparentes (até o final, pelo menos, quando se revela o nome da atriz para quem ainda não conheça Layla Sah) de jogar com o público e aproveitar a aparência do real sem pretender se passar por ele. Aqui, o jogo de cena desperta questionamentos éticos e de verossimilhança: de quem são estes vídeos de adolescentes – algumas deslumbradas, outras incomodadas com as festas? Teriam sido consultadas? Consentiram com o uso da imagem? Foram filmadas de maneira fictícia também, para reproduzirem a aparência de uma captação em vídeo, típica dos anos 1990?
O cineasta Leão Neto gosta desta forma de provocação, preferindo manter questões metodológicas na imaginação do espectador. Enquanto se questiona a natureza da feitura (o real insiste em se intrometer na fantasia), Ravena conquista pela fala doce, as piadas, a consciência de sua contradição. A mulher possui carinho e raiva pelos vídeos. Ama e odeia sua coleção. Deseja e repudia a feminilidade padronizada e precoce. Trata-se da autoconsciência disponível apenas às personagens roteirizadas, como esta, ou a uma eventual figura verídica de impressionante senso de autocrítica.
O resultado cativa sobretudo pelo encontro entre duas formas de ser mulher, vistas como opostas, porém igualmente “artificiais” – no sentido de construídas, fomentadas ou consentidas pelo olhar de terceiros. Ravena é uma mulher, possui uma identidade feminina, embora invisibilizada socialmente.
Ora, as garotas dos vídeos são obrigadas a se encaixarem numa versão castradora do gênero, com a qual tampouco demonstram muita afinidade. Forçam-se determinadas mulheres, marginalizam as demais. Nenhuma delas recebe a oportunidade de se construir sozinha. Resultam na incorporação de planos dos outros, por aceitação ou exclusão – sendo este outro uma figura masculina e legitimadora do poder.
O curta-metragem demonstra plena consciência de seu tamanho e suas possibilidades criativas, fugindo tanto à montagem aleatória de algumas produções experimentais quanto à impressão de um mini longa-metragem que serviria ao portfólio do seu criador. Enquanto formato de produção, transparece uma lucidez louvável de seu alcance – uma autoconsciência que divide, novamente, com a protagonista. Leão e Ravena sonham, mas sabem que sonham, e criticam o próprio sonho.
Corpo Sua Autobiografia
O princípio da empatia
Ao longo de uma sólida carreira artística, Renata Carvalho tem refletido a respeito da conotação política de sua existência. O simples fato de um corpo transexual caminhar pelas ruas e ocupar o espaço público incomoda uma parcela da sociedade que a considera pecaminosa, agressiva, pornográfica, inaceitável. Ela foi agredida nos palcos, após a peça O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu. Foi rejeitada pelos familiares. Foi agredida na feira. Sua fisicalidade chega aos olhos alheios antes mesmo de sua subjetividade. Trata-se de um corpo demarcado socialmente, conforme explica a artista.
Por isso, neste média-metragem (ele mesmo, um formato marginal entre as produções de cinema), Renata e a diretora Cibele Appes decidem apresentar a mulher trans ao público. “Eu quero lhes contar a história do meu corpo”. As criadoras o fazem com calma, sem qualquer anseio por chocar ou afrontar o espectador. Explicam e mostram tal qual fariam a uma criança, ou outra parcela social julgada, pertinentemente, ignorante quanto ao tema em questão. Se não me conhecem pelo que sou, então lhes mostro “os meus eus”. Comecemos pelo começo.
A imagem se concentra nos fragmentos do corpo da atriz. A estratégia se revela tão simples quanto astuciosa: ao se aproximar com naturalidade – sem o fetiche nem o sensacionalismo dignos da grande mídia -, a câmera se foca em braços, pernas, pescoço, bunda, barriga, pés, mãos. Trata-se de um corpo idêntico ao nosso – espectador cisgênero, entenda-se, e majoritário no acesso ao cinema. Os fragmentos constituem a aproximação mais banal possível de uma corporeidade. Nesta desmistificação do caráter monstruoso imputado aos indivíduos trans, desenha-se uma abordagem política fundamental.
Em se tratando desta temática, a maior afronta ao espectador reside em não propor afronta nenhuma. Espera-se uma subjetividade trans agressiva, perigosa, dotada de práticas estranhas e sexualizadas no dia a dia. Ora, a personagem prepara um suco, corta morangos, vai à feira, varre o chão, conversa com a vizinha, rega as plantas. A banalidade deste cotidiano transparece um engajamento inteligente: onde se espera violência, encontra-se a representação do pacifismo e da rotina similar à de qualquer espectador cis hétero.
Enquanto isso, a narração de Renata Carvalho discorre acerca de temas essenciais à compreensão social de homens e mulheres trans. “O corpo das travestis é sobretudo uma linguagem”, afirma. Define-se “cubista”, por ter moldado cirurgicamente o corpo à sua identidade, através de próteses e demais procedimentos médicos. Compara o isolamento decorrente da Covid-19 ao isolamento do qual as travestis sempre foram vítimas – mais uma proposta de identificação com o universo cisheteronormativo. O discurso faz prova de uma paciência e uma didática excepcionais.
Na parte inferior da imagem, cita livros, personalidades, peças de teatro a respeito dos temas evocados. Menciona Érica Malunguinho, lista obras de Sílvio de Almeida e Bel Hooks, além de clássicos como Grande Sertão: Veredas. A protagonista posa com estes livros, organiza-os numa pilha, lê trechos pinçados das páginas. Caso utilizasse as referências na forma de meras marcas de uma intelectualidade, talvez soasse vazio. No entanto, é evidente que os conceitos desenvolvidos nas obras literárias foram devidamente incorporados e reestruturados pela atriz na elaboração do texto narrado.
Talvez as palavras jogadas pela imagem criem certa dispersão, equivalente a ler a página de um livro enquanto se presta atenção nas notas de rodapé. Mesmo assim, justificam-se pela intenção de popularizar os livros e seus autores. Impressiona na abordagem de Carvalho e Appes a disposição a dialogar com a diferença, com o outro – desta vez, a alteridade somos nós. As criadoras teriam motivos de sobra para demonstrarem indignação com esta maioria que oprime a protagonista. Entretanto, adotando distanciamento e boa-vontade, preferem conversar.
O roteiro vai além, ao propor a releitura de iconografias reservadas ao imaginário da cisgeneridade. A travesti-Jesus, a travesti-deusa são evocadas, com discrição, enquanto propostas de uma reflexão incipiente. Fica claro que ambas poderiam desenvolver este raciocínio, caso o desejassem. Mas estimam que a aula foi suficiente por ora. Tal qual uma sessão de terapia, plantam-se sementes de discussão, pressupondo que precisem de tempo para desabrochar. Quem sabe na próxima sessão, alguns destes fundamentos terão assentado, criado raízes.
No final, Corpo Sua Autobiografia pode falar de si próprio, porém está longe de ter algo a confessar, ou um segredo a contar. O corpo em questão está muitíssimo bem resolvido com sua história, sua aparência, suas ambições. Estima, no entanto, que o outro ainda não o conheça, precisando de tamanha disposição introdutória. Entre fragmentos de performance, falas socio-históricas e segmentos do dia a dia (bela sequência acelerada com o amigo, conversando e dançando pela casa), o corpo trans nos convida à identificação. Estimula, portanto, um bem-vindo princípio de empatia.
As Inesquecíveis
A dança das onças
Onças por todos os lados. Neste curta-metragem, há roupas com estampa de onça, imagens de onças na floresta, programas de televisão a respeito destes animais, objetos de decoração que mencionam o felino, e uma canção de tecnobrega fazendo alusão a seu poder e força. A diretora Rafaelly La Conga Rosa escolhe este símbolo enquanto forma de costurar imagens plurais, a partir de uma raríssima captação em Super 8. Por mais diversas que sejam em foco e linguagem, serão unidas pela imagem da onça.
Este ícone se desvenda ao espectador enquanto artifício. Longe do naturalismo (que talvez fosse a escolha mais óbvia, em se tratando da natureza), a autora prefere escancarar o caráter posado dos cenários e dos atores, o exagero das estampas, a rigidez da composição. Prefere, desta maneira, investir no caminho da performance, uma das formas de expressão privilegiadas para a representação do corpo trans e de sua identidade no cinema queer. Afinal, os corpos marginalizados carregam uma mensagem e uma simbologia em si próprios.
Logo, cabe às autoras desenvolver para as personagens uma dinâmica e maneira de se colocar no mundo que condicione um novo olhar a subjetividades invisibilizadas. Seja Renata Carvalho em Corpo Sua Autobiografia, seja Noá Bonoba em Panteras (dois filmes exibidos na Mostra Quelly), pede-se que assumam a vocação performática de seus corpos. Nada de tentar desaparecer na multidão, passar despercebidas para evitar ataques: estas pessoas exigem e merecem ser vistas.
O roteiro proporciona a experiência próxima a folhear um álbum de retratos. Oferece ao espectador momentos de comunhão, amizade, brincadeiras no rio. As onças também representam estas jovens que se banham juntas, dormem juntas. Outro aspecto comum dos curtas-metragens queer reside do foco em famílias formadas por laços eletivos, ou seja, a valorização das amizades em detrimento dos núcleos patriarcais tradicionais. Há modos alternativos, e igualmente válidos, de se construir redes de apoio.
A exibição do afeto com e por indivíduos trans se torna essencial num país onde raras pessoas possuem indivíduos transexuais entre os amigos, namorados e próximos. O momento da pandemia, destacado em As Inesquecíveis, serve como catalisador à demanda por comunhão. Afinal, mulheres e homens trans, isolados da sociedade previamente, se viram ainda mais segregados. As cenas de coletividade, incluindo fragmentos do Encontro Nacional para a Preservação da Vida e Memória Trans, permitem reforçar um pensamento gregário e organizado, capaz de incluir estes cidadãos e estas cidadãs.
O projeto reivindica suas pautas de maneira leve, abraçando o humor. A estrutura incomum das composições e a direção de arte kitsch favorecem o olhar distanciado em relação a estes espaços. A longa cena de dança que encerra o filme também diverte pela ausência de contexto, e pela expressividade sem limites da personagem central. É curioso como as pautas políticas se fazem muito mais eficazes quando abandonam o caráter acusador e pedagógico para proporem uma releitura lúdica, irônica ou fantasista. As Inesquecíveis privilegia este caminho.
Talvez a conclusão ocorra de maneira abrupta demais. A dança catártica corresponde a um bom clímax, embora soe insuficiente enquanto desfecho. Faltava justamente uma síntese à apresentação de imagens de aparências desiguais, em janela mais quadrada ou retangular. O projeto lança belas ideias e propostas de linguagem, embora demonstre menos interesse em traçar reflexões a partir de tantas iniciativas. Mesmo assim, soa como uma celebração audiovisual de corpos e identidades, comparadas simbolicamente à força e naturalidade da onça, tipicamente brasileira, e motivo de orgulho nacional.
Mon CRS
O sofrimento do homem hétero
Então há espaço, na Mostra Quelly, para a redenção das minorias através do amor romântico. Também se abraça o universo queer pelos olhos do homem branco, cis e hétero, a quem se oferece uma escolha: aceito ou não aceito uma travesti em minha vida íntima? É ele quem sofre, ao descobrir que a belíssima cantora de um show não corresponde a uma mulher cisgênero. O que fazer então? Lutar contra seus desejos? Agredir o casal de homens que se beija no banheiro?
Entre os títulos exibidos da seleção do evento maranhense até agora, este curta-metragem é o único que privilegia o olhar da maioria sobre as minorias. Também corresponde à única representação da transexualidade enquanto enganação, fingimento, capaz de seduzir homens-padrão (no corpo e na maneira de pensar) que acreditavam ter encontrado o grande amor da sua vida. Em uma programação dominada por imaginários da transexualidade e das travestis, este seria o ponto fora da curva, ou uma concessão atípica à percepção de gosto do público médio.
Isso porque o ator Mathis Chevalier tem seu corpo musculoso explorado de todas as formas possíveis pelo diretor Marc Martin. Ele é visto fazendo exercícios no apartamento onde mora; deitando-se na cama apenas de cueca branca; tomando banho na banheira. O rapaz posa mais do que atua. Está descamisado na maior parte das cenas. Segura uma garrafa de leite perto da virilha, e deixa o líquido escorrer sobre o peito. Depois, lustra seu coturno em movimentos que remetem à masturbação.
A canalização do desejo através do humor soava como uma saída lógica ao filme. Caso satirizasse as convenções desta ultra masculinidade, reforçando sua artificialidade, o resultado poderia atingir um discurso mais engajado. No entanto, a abordagem é seríssima em sua admiração, preferindo louvar a imagem da montanha-de-músculos. O filme o deseja, o vangloria, ao invés de perceber o quanto o protagonismo branco-masculino-hétero-cis pode ser contraproducente em relação à possível namorada travesti (Othmane), que tem pouco a fazer além de servir de motor ao desejo dele.
O male gaze, o olhar masculino, encontra-se em primeiro plano no projeto. Por este motivo, na conclusão, a artista é transformada em plateia, testemunhando o corpo do ator se movimentando no topo de um prédio, enquanto ele domina simbolicamente o palco. O sujeito transfóbico se desconstrói e aceita namorar uma travesti! Deveríamos aplaudi-lo pelo “ato de coragem”, por tê-la “aceitado”, ou considerar que o respeito à subjetividade da cantora não constituía mais do que uma obrigação (do herói e do curta)? O projeto romantiza o conto de fadas do príncipe encantado, chegando para salvar a princesa indefesa – vide o resgate na rua, em referência a O Guarda-Costas.
Este princípio poderia adquirir contornos diferentes caso a paixão fosse vista pelo olhar da performer, decidindo se quer ou não investir em tal relacionamento. Ora, no curta francês, a cantora não possui escolhas. Se acaso a quiserem, ela é destas mulheres que só dizem sim. Outro caminho se encontraria no abandono da mensagem de autoajuda, predominante na narrativa inicial, rumo a uma estética arrojada e subversiva uma vez que o romance se concretiza. Nada disso: o sexo ocorre sob os lençóis, tal qual uma telenovela, com direito a trilha sonora romântica, contraluz alaranjado e dedos arranhando as costas do homem amado.
Por fim, Mon CRS mergulha em códigos do imaginário televisivo e publicitário a respeito dos corpos cis e trans. As falas do policial transbordam de frases de efeito: “Todos temos sonhos de infância”. “Eu me exibo no espelho, mas tenho medo”. “Boxe é como encarar uma página em branco”. “Ouço o vento acariciando as árvores”. Ele poderia completar: “Just do it”. “Keep walking”. “Use filtro solar”.
Curiosamente, o criador eleva estas marcas e reflexões, tão próximas do humor autoparódico, ao patamar de um grande ensinamento de vida. Aparenta se dirigir ao público cishétero (“Aceite as mulheres trans”, “Expanda seus horizontes”) em detrimento do espectador LGBTQIA+. O terror, o gore, o ridículo, a fantasia, o kitsch, que faziam tão bem em produções como Panteras, Quinze Primaveras e Godasses Parte III: Jamal Phoenix estão ausentes no romance francês. A obra ocupa um universo e um ponto de vista totalmente distinto em relação ao cinema queer.
Blinded by Centuries
O natural e o artificial
Este curta-metragem parte de uma síntese astuciosa entre os principais questionamentos levantados na sexta edição da Mostra Quelly. Para além da oposição entre ficção e documentário, entre cisgeneridade e transgeneridade, entre política institucional e política dos afetos, existe um embate essencial entre aquilo que pertence à natureza, e o que diz respeito ao artifício.
Indivíduos LGBTQIA+ são considerados por vozes preconceituosas como “antinaturais”. Afinal, duas mulheres cis ou dois homens cis não poderiam, sozinhos, procriar. (Casais hétero cis inférteis também não, mas passemos). A transexualidade, ou a identidade travesti, costuma ser desprezada pelas doutrinas religiosas a partir de motivos semelhantes: estariam desrespeitando a concepção de Deus. Não seria natural readequar o corpo à sua identidade. (Tampouco seria natural pintar os cabelos, fazer procedimentos estéticos, porém, uma vez mais, passemos).
Ora, a produção de curtas-metragens revelada no evento maranhense tem se constituído como uma ode ao artifício. Ao invés de se combater o argumento com provas de que somos, sim, naturais (pinçando, por exemplo, outras espécies no reino animal que manifestam comportamentos homossexuais), ostenta-se com orgulho a possibilidade de ser diferente. Sim, posso mudar meu corpo. Posso ser exagerado, kitsch, estranho, bizarro, provocador. Posso ser “cubista”, conforme afirmava Renata Carvalho.
Transparece em Panteras, Fluidité, Quinze Primaveras, Corpo Sua Autobiografia, As Inesquecíveis e Godasses Parte III: Jamal Phoenix um grande “foda-se” às regras nas quais se tentam inserir indivíduos marginalizados, nas mais distintas culturas. Se dizem que não sou natural, talvez não o seja. Qual o problema? Serei o que quiser, como quiser. O exagero, as estampas de onça, as cenas sangrentas de terror, as poses sobre quadros renascentistas reafirmam a possibilidade do indivíduo que constrói a si mesmo. Sejamos o nosso próprio quadro em branco.
Curiosamente, Blinded by Centuries provém da Tailândia, sendo o único curta-metragem asiático da sexta edição da Quelly. Trata-se igualmente do projeto mais distanciado de uma noção explícita do queer enquanto sexualidade e identidade. As figuras em cena, que dançam e se agitam em performances catárticas, podem ser heterossexuais e cisgênero. No entanto, o queer enquanto fuga das normas (do cinema e da sociedade) está plenamente representado na obra. É louvável que os curadores tenham incorporado uma compreensão abrangente do termo.
O roteiro efetua um caminho curioso, do natural ao artificial. Começa com jovens percorrendo florestas e paisagens rurais da Tailândia. A captação digital de baixa qualidade, em luzes superexpostas, impede qualquer idealização bucólica deste cenário. Aos poucos, a câmera se desloca aos centros urbanos. Passeia por laboratórios de manipulação genética. Acompanha a fabricação de uma “Carne 2.0”. “A tecnologia é o novo Deus, porque Deus está morto”, declara a narração em off, conforme visita cavernas virtuais e questiona o valor de frutas transgênicas.
A estética acompanha a viagem geográfica. No início, traz planos abertos, fixos, distanciados, longos. Em seguida, acelera-se, abraçando a montagem frenética, as trilhas sonoras múltiplas, as intervenções digitais de pós-produção. A cineasta salta da observação à intervenção, ou da reflexão ao julgamento moral, exatamente como se faz nas redes sociais. Esta linguagem do tudo em todo o lugar ao mesmo tempo transmite o aspecto de videoclipe apocalíptico, quando o frenesi busca uma forma de explosão (ou seria anestesia?) dos sentidos.
O curta-metragem evita a nostalgia em relação ao passado campestre, enquanto foge à demonização da contemporaneidade tecnológica. Mesmo assim, enxerga os laços nocivos de ambos, sugerindo que o corpo não possui escapatória entre um e outro. Criamos modelos insustentáveis de convivência, representados por uma dança-ritual ao redor de névoas coloridas, enquanto se esmaga uma melancia geneticamente modificada. Os corpos sofrem, porém, se agitam, dançam, porque não podem parar.
Mai captura com talento o imperativo do movimento, a falsa sedução pelas imagens. Decide revertê-la pelo avesso, adotando um olhar catastrófico, que enxerga nosso mundo enquanto grosseiro, condenado, insalubre. Muitos filmes da seleção adotam os códigos do horror, entretanto, talvez este seja o único propriamente distópico. Por isso, a solução no final consiste em desviar a câmera, retirar o olhar dos jovens que se chacoalham, queimam em uma estufa tal qual plantas manipuladas. O foco se vira ao céu, pela incapacidade de continuar a testemunhar a cena perturbadora.
Existe uma poesia potente na disposição a enxergar o caos de maneira lúdica, transmitindo-o pela linguagem, via estética. O curta-metragem perturba por seu agenciamento de imagens, pelo uso incomum de iluminação, de cores, de ritmo. O sentido se produz na forma de uma afronta aos padrões clássico-narrativos. A perda de referências e de compreensão do mundo começa, neste caso, pela perda dos sentidos. O fim do mundo, quem diria, também é queer.
Panteras
Amor de perdição
O primeiro aspecto que salta aos olhos neste filme diz respeito à ambientação. Panteras está repleto de névoas multicoloridas, banhando personagens que dançam (ou correm, ou lutam, ou beijam) em câmera lenta, numa espécie de transe coletivo permanente. O diretor Breno Baptista investe numa aparência letárgica, desconectada do real pelo simples uso de cores e luzes. A aparência está mais próxima do imaginário dos contos de fada e das florestas amaldiçoadas do que ao cenário urbano onde vivem os protagonistas.
A trinca possui poderes muito especiais: uma garota é capaz de escutar frases proferidas pelo próprio sangue, que escorre do ouvido e dos olhos – tal qual uma santa com seus estigmas. Outro tem o poder de entrar nos sonhos alheios. Um rapaz sofre com a maldição de provocar a morte daqueles que beija. As figuras em cena são especiais, no sentido de incomuns, estranhas, e assumidas como tais. Mesmo assim, encaram as manifestações alheias enquanto fenômenos banais, incapazes de alterar a ordem social.
O autor demonstra uma bela compreensão do terror enquanto retrato da diferença e medo do outro. O cinema queer e o cinema de gênero se conectam sobretudo pela capacidade de representarem a aversão à diferença, àqueles que se comportam de maneira diferente de mim. Os monstros, fantasmas, vampiros e assassinos das obras de terror sempre constituíram ótimas metáforas de indivíduos LGBTQIA+, graças à possibilidade de despertarem o medo pelo desconhecido (uma fobia, de onde se extrai a homofobia, transfobia, etc.).
Assim, enquanto o status quo sugere que “gays destruirão a família tradicional”, o audiovisual pode extrapolar esta lógica absurda ao, literalmente, matar um núcleo familiar pelas mãos de um monstro, revelando o potencial catártico e exagerado deste raciocínio. Panteras vai além, ao subverter a lógica das produções de super-herói: desta vez, duas mulheres fortes e movidas por senso de justiça precisam salvar um garoto frágil, preso a um relacionamento abusivo. É ele quem espera pelo resgate das duas mulheres.
Um casal feminino, e outro formado por dois homens, compõem o centro da trama. As falas monocórdicas, a partir de um texto excessivamente escrito (que se encaixam com dificuldade na boca do elenco), seriam reprováveis em filmes naturalistas. Aqui, devido à proximidade com a linguagem do pesadelo e do devaneio, justificam-se. Noá Bonoba, em especial, se delicia com o torpor das palavras, reforçando seu caráter asqueroso (vide a bela cena na joalheria).
Os jovens estão, ao mesmo tempo, vivos e mortos, desejantes e anestesiados. A lua cresce no céu, indicando a proximidade do clímax. Verônica treina luta, em óbvia preparação ao embate entre mocinhas e vilão. Baptista desenha uma delicada ciranda onde todos se amam e se cuidam. O limite entre namorados, amigos e parceiros se borra ao apresentar personagens para além de rótulos definidos. “Vocês estão juntas?”, pergunta Renan à dupla que chega em seu socorro. “Acho que não”, respondem. Pouco importa. Quando se encontram em risco, eles se protegem.
Neste percurso, o média-metragem explora iconografias típicas dos filmes de vampiro, de lobisomem, de zumbis. Navega-se com facilidade entre sugestões que evitam referências específicas, apesar de habitarem o mesmo universo gótico-sombrio. Baptista faz prova de um belo exercício de cinefilia, no sentido de incorporar regras e códigos sem meramente replicá-los para o prazer da identificação do espectador. Há mais em jogo do que o amor por filmes particulares: homenageia-se uma percepção ampla do cinema de gênero.
Junto ao público no Teatro da Cidade de São Luís, Panteras representou um sucesso absoluto, capaz de despertar risadas e aplausos calorosos ao final. O encerramento com uma performance fotográfica do trio de protagonista une o luxo ao lixo, ou ainda, a imersão típica do terror com o distanciamento comum às obras metalinguísticas, que revelam a presença do dispositivo. Já frases como “Gay chata do caralho!” proporcionaram um expurgo ao humor latente até então.
O projeto comprova controle excepcional da comunicação com o público, navegando entre ferramentas do cinema popular-exploitation e as demandas mais específicas do cinema de arte, autoral e independente. O resultado chama atenção ao talento de um cineasta capaz de utilizar o gênero e a sexualidade enquanto componentes orgânicos de um universo amplo – estes elementos se tornam meios, ao invés de finalidade da narrativa.